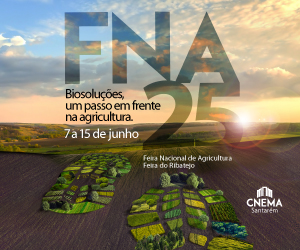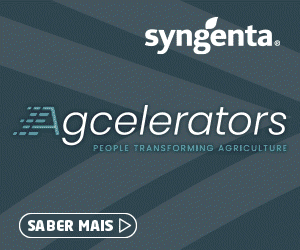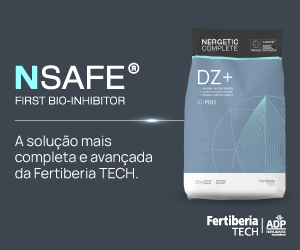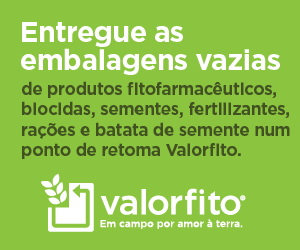“o autor defende o regresso dos sobreiros e matos e eos serviços de ecossistema prestados pelo monte, onde é que isso está errado!!??”
Vinha esta enfática pergunta a propósito desta ideia:

Mais, a pergunta era tanto mais enfática quanto eu teria dito que a transcrição acima era uma ideia muito comum entre as elites dos séculos XVIII, XIX e primeira metade do século XX, mas estava errada, o que o meu interlocutor achava estranho porque lhe parecia o mesmo que transcrevia da minha tese:
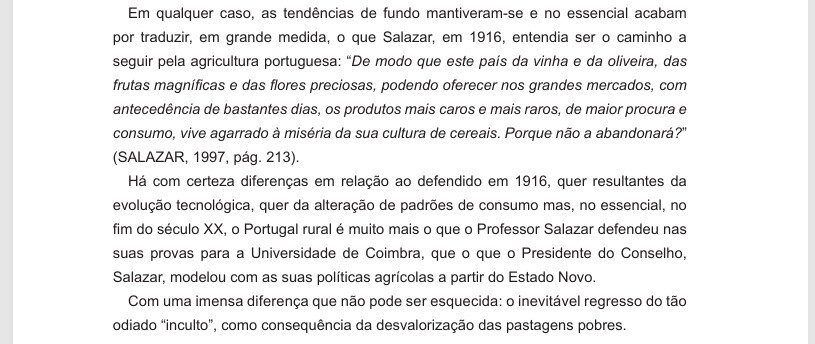
Eu sei que esta discussão sobre o mundo rural interessará a muito pouca gente e, na verdade, é das coisas que mais dificilmente são aceites sobre gestão de paisagem em Portugal.
Vou tentar primeiro caracterizar a questão, e depois dar testemunho do que penso ser uma evolução do pensamento sobre as terras marginais que, infelizmente, tarda em ser aceite nas políticas públicas (lá teremos de esperar pela materialização do princípio de Planck que diz que a ciência progride a um enterro de cada vez).
Entre muitas coisas boas que iluminismo trouxe, veio também algum entulho em que se inclui a ideia da inevitável superioridade intelectual do racionalismo científico face ao conhecimento tradicional, longamente sedimentado pelo tempo nas culturas populares.
No mundo rural, um mundo de iletrados, maioritariamente pobres e com conhecimento pouco formalizado em documentos validados pelas elites, isso teve como consequência uma permanente desvalorização das práticas tradicionais, substituídas por opções racionais de gestão, infelizmente baseadas em conhecimento parcial cujos limites se procuraram alargar através de investigação endógena, dentro das elites, desprezando a informação contida no conhecimento de analfabetos, sedimentado por séculos de dependência da produção de alimentos e fibras.
Se, na agricultura, os danos causados por esta opção acabam por ser limitados porque os falhanços resultam em fomes generalizadas (o melhor exemplo continua a ser, parece-me, o de Lysenko porque o modelo ferreamente centralizado de gestão, associado ao desprezo pela vida de cada pessoa em concreto característicos dos regimes marxistas, lhe permitiu atingir uma escala que só terá paralelo na campanha das quatro pragas inserida no Grande Salto em Frente da China maoista), na silvicultura e gestão das terras marginais, os danos provocados por esta ideia de superioridade absoluta do conhecimento racionalizado através das instituições das elites sobre o conhecimento tradicional, criado e difundido através das culturas populares (se quisermos, a superioridade absoluta do pensamento cartesiano sobre o pensamento mitológico), ainda hoje opera nas políticas públicas, com resultados catastróficos em algumas matérias, como a gestão do fogo.
Ora entre a primeira ideia que transcrevi – a ideia de que existe o mundo da produção agrícola apartado de “incultos” cuja gestão depende apenas de opções pouco limitadas pelo contexto, sendo racional florestar essas áreas marginais para ganhar controlo sobre o ciclo da água e a erosão do solo (daí a discussão entre os que defendem que isto seja feito com a florestação comercial ou com matas de protecção), marginalizando o pastoreio e o fogo – e a segunda ideia em que se fundamenta o que transcrevi da minha tese – a de que existe apenas um sistema de produção que integra os campos agrícolas e as terras envolventes, que são uma fonte de fertilidade gerida com as duas principais tecnologias disponíveis, o pastoreio e o fogo – há uma diferença abissal, com implicações muito relevantes na visão que se tem da gestão da paisagem.
Uma das principais implicações das diferenças entre estas duas visões diz respeito à interpretação do impacto da descoberta da síntese da amónia e consequente generalização dos adubos azotados, em que os primeiro vêem um risco de poluição que, em sociedades quimiofóbicas, alimenta o medo generalizado, e os segundos vêem uma alteração tecnológica fundamental que corta o vínculo entre áreas agrícolas, cuja fertilidade passa a ser gerida a partir do fabrico industrial de adubos, e as áreas marginais que perdem utilidade social (aquilo que na transcrição da minha tese está caracterizado como “desvalorização das pastagens pobres”).
Esta diferença de visão tem implicações, com os primeiros romanticamente a olhar para paisagens em que vêem oportunidades de criação de paraísos naturais, e os segundos a olhar para as mesmas paisagens e a tentar compreender as implicações sociais do abandono, nomeadamente na gestão do fogo, um processo natural que temos vindo a controlar progressivamente nos últimos milhares de anos, com recurso ao conhecimento tradicional sedimentado por milhares de anos de fomes e miséria, assente nas tecnologias do fogo e do pastoreio que, quase de um momento para outro, nos fugiu de controlo pela combinação da descoberta da síntese da amónia e do desprezo das elites pelo conhecimento tradicional, o que nos deixou despotegidos face ao apelo mágico de um mundo sem fogos, com o regresso da mãe natureza a uma posição preponderante.
Sem o saberem, os primeiros estão simplesmente a fazer uma leitura literal da paisagem que fascina milhões de pessoas há milhares de anos: “E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida; e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim; e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pisom; este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom; ali há o bdélio, e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Giom; este é o que rodeia toda a terra de Cuxe. E o nome do terceiro rio é Tigre; este é o que vai para o lado oriental da Assíria; e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pós no jardim do Éden para o lavrar e o guardar”.
Os segundos, coitados, estão simplesmente a tentar perceber em que mundo estão metidos, uma situação bem menos confortável e bem mais difícil de vender ao vizinho do lado.
O artigo foi publicado originalmente em Corta-fitas.