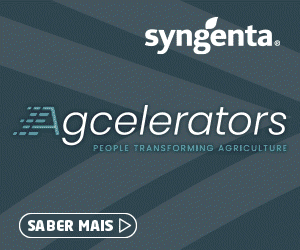Pedrógão está lindo. Repleto de verde, agressivos eucaliptos, vegetação rasteira, flores roxas e amarelas. Passados dois anos do incêndio que vitimou 66 pessoas, o concelho está em ponto de rebuçado, pronto a arder de novo, mas o fogo que alastra em Pedrógão é outro. Já não mata. Mói consciências. Entre a culpa da sobrevivência e a comparação de perdas e indemnizações, a comunidade enredou-se em invejas e acusações, dividiu-se, afastou-se.
Há famílias desavindas, casamentos desfeitos, amizades findas, mágoas em acumulação. Os quatro bombeiros de Castanheira de Pera que viram o colega morrer na sequência de um acidente de viação, que matou mais três pessoas e os feriu gravemente, pouco ou nada se falam. Nádia Piazza, que perdeu um filho de cinco anos e se tornou um rosto da tragédia, vai abandonar a presidência da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, fazer um doutoramento, mudar de vida. Zeca, Carlos e Vítor, os queimados mais graves e que trabalhavam juntos numa empresa de madeira, enfraqueceram os laços, laborais e de amizade. Heróis e arguidos obrigam-se à coexistência — na corporação de bombeiros, o comandante Augusto Arnaut enfrenta a acusação de homicídio por negligência, enquanto que o adjunto (e cunhado), Sérgio Lourenço, é enaltecido por ter salvado uma dezena de pessoas.

Dina Duarte, no memorial às vítimas de Nodeirinho
Nuno Botelho
“Em Pedrógão, pela primeira vez o Estado dobrou-se [o primeiro-ministro pediu desculpa no Parlamento], servindo de precedente para as indemnizações dos incêndios de outubro. Mas, a par disso, temos agora o pior das pessoas e das instituições: ganância, soberba, impunidade. Sobretudo não há consciência, pesar.” O desabafo de Nádia Piazza revela o desencanto de quem vive na região e recebeu compensações financeiras, como se estas pudessem calar sentimentos que perduram para lá da utilização do dinheiro. “Nada vai mudar. Só mudou quem perdeu a inocência, o ser amado, a crença nas instituições, no outro ser humano”, afirma. “No início houve muita união, mas o dinheiro estragou tudo e a grande cisão veio com a reconstrução das casas, que causou revolta pela falta de transparência. O que as pessoas fizeram ao dinheiro, só a elas diz respeito, mas não sinto que tenha melhorado nada. Não curou, não fez esquecer; agudizou. Ensombra”, conclui.
“A comunidade está em sofrimento”, atesta Ana Araújo, psiquiatra que acompanha a população desde o primeiro minuto após a tragédia. Tentou fazer terapia de grupo nas aldeias e não conseguiu. “As pessoas pensam que são muito resilientes, e são, mas quando voltam as notícias a dor regressa”, explica. Encontrou idosos, “muito habituados a lidar com o fogo, que há dois anos descobriram que afinal são incapazes de o combater e que não se conseguem perdoar”. O seu consultório, diz, tornou-se “uma tranca, onde entram vítimas e arguidos, todos em sofrimento”. Alguns só agora lhe aparecem a bater à porta.
TRAGÉDIA BASTARDA
Quem trocou de carro? Quem teve a casa reconstruída? Quem recebeu donativos? Quem apareceu mais vezes na televisão? O que deveria ser acessório tornou-se fundamental, sujando a reputação da comunidade. E o poder político nada fez para a orientar noutra direção, mais positiva, queixam-se. Não se ouviu: vamos mudar, vamos pintar, vamos reconstruir. Juntos.
“A esperança de que a situação mudasse fez-se tristeza. Não sei se se compram silêncios, mas obviamente que o dinheiro trouxe separações e há muita falta de perdão, muitas bocas caladas por medo e mágoa. A rotina tornou-nos mais individualistas, mas não se pagam vidas, apenas a falta delas. Como cidadã, esperava que mais tivesse sido feito. Continuamos a não ter espaços de segurança e tenho dúvidas de que as mortes não tenham sido em vão”, relata Dina Duarte, habitante de Nodeirinho, aldeia onde morreram 11 pessoas e onde existe o até agora único memorial em honra das vítimas do fogo. É uma voz da terra, que fala pela terra e que a terra ouve.
“No meio rural, as festas unem, mas o trauma divide as pessoas. Não há desastres que não sigam esse padrão, sobretudo na realidade portuguesa, onde o localismo e o poder autárquico alimentam as divisões”, explica José Manuel Mendes, sociólogo da Universidade de Coimbra, especializado em trauma comunitário, e que acompanhou a população da região no pós-tragédia. Explica que nas aldeias todos se conhecem e que a posse pode gerar grandes rivalidades. O exemplo de Entre-os-Rios é claro. Também há 18 anos, na queda da Ponte Hintze Ribeiro, quando morreram 59 pessoas, a forma como cada familiar das vítimas utilizou o dinheiro das indemnizações foi motivo de divisão da comunidade.
“São questões sociopsicológicas ancoradas numa dor que não tem fechamento possível”, explica Mendes, alertando que no incêndio de 17 de junho houve uma característica que o distinguiu: o grande número de mortes de pessoas de fora da região. Cerca de um terço não vivia nas localidades afetadas pelo fogo, o que terá provocado uma separação à partida entre os familiares de vítimas e, simultaneamente, assegurado uma ressonância única na opinião pública nacional que os expôs.
No caso de Pedrógão, também o Estado parece ter culpas a expiar na divisão da comunidade — como a disparidade entre a rapidez com que foram atribuídas as indemnizações a quem perdeu familiares no incêndio e a lentidão a quem ‘apenas’ ficou ferido (ver texto ao lado); ou mesmo a recente decisão do presidente da Assembleia da República de consagrar o dia 17 de junho a todas as vítimas de incêndios florestais em Portugal, fixando naquele concelho a marca de uma desgraça que é nacional.
Até os memoriais são sinais de divisão. Na aldeia de Nodeirinho foi construído um pequeno monumento de iniciativa local e na berma da EN 236-1 está ser preparado um lago de dois mil metros quadrados, criado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura em honra das 116 pessoas que perderam as vidas nos grandes incêndios de 2017, com o apoio do Governo e da associação de vítimas. O sociólogo José Manuel Mendes diz que é essencial haver um só local “onde as pessoas se possam cruzar, encontrar umas com as outras, gerando uma aproximação mesmo que simbólica”.

Sérgio em Escalos Fundeiros, onde começou o fogo
Nuno Botelho
ESTRADA SEM APEADEIRO
Passar pela EN 236-1, conhecida como “a estrada da morte”, é hoje uma experiência vazia. Os carros atravessam-na em alta velocidade, indiferentes ao único ramo de flores de plástico que continua preso ao rail, como um sinal de alarme para a aproximação do troço de 400 metros onde morreram 47 pessoas. Da tragédia, não resta mais nada visível. As árvores mais altas foram cortadas, as bermas têm fetos e eucaliptos novos e como pano de fundo, o som das motosserras e do vento, um dos principais responsáveis pela velocidade inédita de propagação do fogo. Um som que durante muito tempo impediu os habitantes de descansar. “As pessoas tinham medo de dormir e voltar a ouvir o vento e sentir os cheiros”, conta a psiquiatra Ana Araújo.
A aproximação do verão dificulta ainda mais o controlo das emoções. “É sempre complicado e o 17 de junho torna tudo mais sensível. Não dá para apagar as recordações”, confessa Filipa Rodrigues, 26 anos, bombeira de Castanheira de Pera. Ferida grave, procura emprego e preocupa-se com o futuro dela e da região. “Podíamos ter conseguido mais direitos para os bombeiros, mas os bens materiais levaram as pessoas ao egoísmo. Talvez tenha sido a dor, mas continuamos a cometer os mesmos erros e está tudo muito parecido ao que estava há dois anos. Os eucaliptos rebentaram com força bruta e tenho muito medo do verão”, resume.
Pedrógão tinha tudo para tornar-se um exemplo de recuperação. Recebeu apoios públicos e a solidariedade nacional espontânea e imediata. Mas, passados dois anos, a inércia parece total. As obras ficaram-se pela reconstrução das casas ardidas. Já não se vê nada a nascer. Só mato. Em Escalos Fundeiros, onde o incêndio começou, a vegetação cresce sem ordenamento. Tal como dantes. E como o tempo da justiça se desencontra do tempo dos homens, enquanto não se dá um rosto ao sentimento de iniquidade — ainda não se sabe quem vai a julgamento e quando —, rompe-se o tecido social, fragmentam-se relações.
Nádia continua a contar os dias, um a um, as fotografias do filho morto enchem-lhe a casa, a mesma em que vivia em 2017. Quer fechar a porta do passado escrevendo um livro de memórias, mas ainda não o começou. Hugo Damásio, 22 anos, que perdeu o pai, a mãe e o tio, vai ver nascer o primeiro filho em agosto. Largou a fábrica onde trabalhava e vive agora com a mulher e a irmã na casa dos pais, mas sente-se diariamente pressionado pela comunidade, querem saber de onde veio o dinheiro com que fizeram obras, perguntam-lhe pelas faturas, querem saber se foram donativos. “Se fosse por mim, já não estava aqui”, desabafa Hugo. Mas Andreia, a mulher, não quer partir. Quer que o primeiro filho nasça ali. É o recomeço.
Há feridos que ainda aguardam por indemnizações, casas por reconstruir, donativos por distribuir. A dor foi muitas vezes apaziguada pelo desconhecido, pela solidariedade de longe, mais do que pela porta ao lado. “A comunidade tem de aprender a perdoar-se, mas a aceitação precisa de tempo”, explica a psiquiatra Ana Araújo, para quem “a intensidade dos sentimentos é tão grande que as pessoas não conseguem estar umas com as outras”. É por isso que ainda há consultas em que a pessoa não fala, “apenas chora”. Ela, como médica, tem ali trabalho para os próximos cinco anos.
Em “A Condição Humana”, Hannah Arendt escreveu sobre o perdão. “Se não fôssemos perdoados, eximidos das consequências daquilo que fizemos, a nossa capacidade de agir ficaria limitada a um único ato do qual jamais recuperaríamos.” Perdoar não é esquecer. É o que surge de novo, apesar da recordação. E o que surge será o sentimento de acusação ou de perdão? Pedrógão ainda não decidiu.