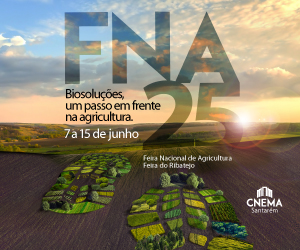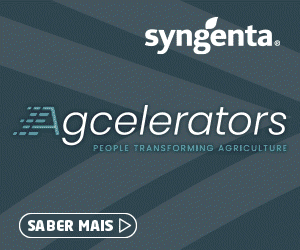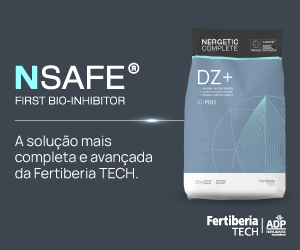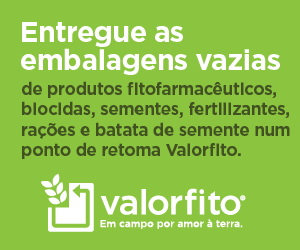A falta de dados sobre diferentes métodos de produção de carne de vaca dificulta a análise em torno dos impactos ambientais. Especialistas ouvidos pelo JN sobre tema reavivado pela Universidade de Coimbra admitem o problema e responsabilizam o Estado.
Há muitos e distintos tipos de produção de gado bovino para carne, mas faltam dados oficiais sobre a área ocupada por cada um, o que impede uma avaliação rigorosa dos impactos ambientais associados. Impactos que variam consoante as características dos sistemas, que Portugal tem em variedade: intensivos (mais industrializados e menos amigos do ambiente), extensivos (o contrário) e vários meios-termos.
“É verdade que, em média, a carne de vaca é um produto com altíssimas emissões, só que aquilo que não se diz é que é também um produto em que a gama da variação possível das emissões, dependendo da forma como é produzida, é igualmente maior”, constata Ricardo Teixeira, docente de Engenharia do Ambiente e investigador no Instituto Superior Técnico, em Lisboa.
Para dizer se a nossa carne é produzida de forma sustentável ou não, falta saber com rigor quanto é que se produz através de cada método.
O Instituto Nacional de Estatística (INE) não dispõe da informação, nem nos inquéritos anuais à estrutura das explorações agrícolas nem no Recenseamento Agrícola de 2009 (o de 2019 já poderá conter os dados), confirmou, ao JN, o gabinete de comunicação. A questão também não obteve resposta por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), porque “sai do âmbito de intervenção”, nem da Direção-Geral de Animais e Veterinária (DGAV), que não respondeu.
Para João Joanaz de Melo, investigador na área ambiental e professor na Universidade Nova de Lisboa, “não se consegue tomar decisões boas sem ter boa informação”. “Há responsabilidades do Estado que, quando faz uma estimativa de emissões, devia distinguir gado criado ao ar livre de gado estabulado, porque existe informação científica suficiente na literatura internacional para sabermos que é diferente uma coisa da outra”, aponta. O fundador do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) insiste que o Estado “tem que melhorar o seu desempenho e a sua recolha de informação”, estendendo responsabilidades às universidades e instituições.
Ricardo Teixeira admite o mesmo problema: “É muito complicado. Como investigador, já tentei várias vezes obter dados fidedignos sobre isso e nunca consegui”.
Desde que, em setembro, a Universidade de Coimbra anunciou que não ia servir mais carne de vaca nas cantinas , rebentaram reações dos que viram a medida como um passo em frente em favor do ambiente ou um passo às cegas num percurso que é mais trilho que estrada. O JN falou com vários especialistas da área que, variando em alguns pontos, convergem no essencial: produções diferentes geram impactos diferentes; quantificá-los é difícil; comer menos carne será bom; eliminá-la da Terra não.
“Não se encontra sistema tão favorável”
Carlos Aguiar, do Centro de Investigação de Montanha do Politécnico de Bragança, diz que Portugal tem um “leque imenso de produção animal” e que “provavelmente não se encontra no país nenhum sistema de agricultura que seja ambientalmente tão favorável como a bovinicultura”.

“É completamente diferente termos animais metidos num estábulo ou no campo”, acrescenta Joanaz de Melo. Enquanto as emissões de gases com efeito de estufa aumentam se as vacas estiverem fechadas – por causa das rações, da acumulação de resíduos e dos químicos e antibióticos – se houver a quantidade certa de animais numa pastagem, estes não vão provocar danos e até ajudam a fertilizar o terreno. “É um processo utilizado há milénios, razoavelmente sustentável. Eliminar a carne tem implicações ambientais complexas. Se estivermos a falar de produção extensiva, não é evidente que o efeito seja positivo”.
“É melhor ter as vacas do que não ter”
O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAF), Eduardo Oliveira e Sousa, é mais incisivo ao dizer que “se as vacas estiverem em pastoreio, o contributo para o efeito nocivo da libertação de gases é praticamente nulo”. E explica: no processo de digestão dos ruminantes, há dois gases que são produzidos: o CO2, pelas fezes, e o metano, pelo arroto e respiração; acontece que há pastagens (biodiversas, compostas essencialmente por gramíneas e leguminosas) capazes de retirar dióxido de carbono da atmosfera. E “em função das condições do clima e do nível de matéria orgânica no solo”, essa retenção – sequestro de carbono – chega a ser superior à libertação de gases. “Se houver vacas em pastagens devidamente cultivadas, o saldo é positivo. É melhor tê-las que não ter, porque aquilo que as pastagens retêm é mais do que o que as vacas produzem”.
“Sequestro de carbono é contributo muito importante”
As pastagens biodiversas, cuja área não foi possível apurar, têm ainda a vantagem de retirar da atmosfera azoto, essencial para as plantas crescerem mas danoso se inserido sob a forma de fertilizante químico, por causa da produção e aplicação, acrescenta Ricardo Teixeira. Com base numa investigação que realizou em 2015 (em colaboração com outros colegas), o investigador estima que estas pastagens consigam sequestrar, numa média a dez anos, 6,5 toneladas de CO2 por hectare. E cita um estudo recente de vários especialistas na área, que concluiu que o sequestro de carbono no solo em pastagens/sistemas de pastoreio corresponde a cerca de 20 a 30% de todas as emissões dos animais nesses sistemas. “Não é nada negligenciável, é efetivamente um contributo muito importante para mitigar as emissões destes sistemas”, rematou.
Portugal sem vacas é igual a Portugal a arder
A frase hiperbolizada é do presidente da CAF, que explica que “se diminuirmos o número de vacas que pastoreiam, vamos originar terrenos abandonados, que se vão encher de mato, que mais cedo ou mais tarde vai arder”.
A ideia vai ao encontro do que diz Henrique Pereira dos Santos, paisagista ambiental e coordenador de planos de ordenamento e gestão de áreas protegidas: “Do ponto de vista da sustentabilidade, se queremos controlar incêndios, vamos ter que ter animais de produção, e isso só faz sentido se for de forma economicamente sustentável, que se obtém através da comercialização dos produtos. É incomparavelmente mais eficiente comer um cabrito do que plantar uma árvore quando se está preocupado com os efeitos dos fogos”.
Se tirarem as vacas, acrescenta Carlos Aguiar, “o sistema rebenta” no sentido em que o “stock” de carbono rapidamente se propaga. “Se não tivermos pastorícia, sobretudo com vacas, há um grande risco de o carbono ir para a atmosfera com fogos.”
Defensor de uma redução do consumo, mas com consciência, Henrique Pereira dos Santos concorda que “a questão central não é o produto mas as formas de produção”, valendo a premissa “tanto para a carne como para a soja”. Sem arriscar avançar números, diz que “grande parte” da produção de carne em Portugal se faz em regimes extensivos. “Mas mesmo esses podem ser mais ou menos intensivos”.
“Clima positivo” no Norte
Dentro do pastoreio extensivo, completa o investigador Carlos Aguiar, há “animais que se alimentam de forragens [plantas destinadas à alimentação animal] produzidas no interior do sistema e com recurso a poucos fatores de produção [água, azoto, potássio, adubos]” e casos em que “parte significativa do alimento vem de fora ou é produzida com muitos fatores de produção”. As quatro raças “especiais” do Norte – cachena, barrosã, maronesa e arouquesa -, adaptadas a pastar em zonas de mato nas montanhas, servem de exemplo para o primeiro regime. “Os fatores de produção exteriores ao sistema são muito reduzidos, os animais alimentam-se maioritariamente dentro do sistema e os nutrientes são reciclados”. Além disso, a presença da vaca “reduz os riscos de incêndio” e “favorece o sequestro de carbono”, sendo por isso “clima positivo”.
Alta concentração é problema
O segundo regime encontra-se no Alentejo, onde há uma alta concentração de animais, suplementados durante vários meses com rações ou adubos importados ou produzidos localmente, mas com grandes incorporações de azoto, elemento prejudicial para o ambiente. “As vacas vão comer alimentos importados e depois vão defecar. Há um refluxo contínuo de nutrientes de fora do sistema, que têm um custo carbónico maior, porque são produzidos em fábricas e envolvem grande investimento e máquinas. Lentamente, as pastagens ficam seriamente degradadas”, explica o investigador de Bragança, adiantando que este método híbrido é “claramente” o que mais se encontra em Portugal.
Também há produção intensiva
No extremo mais “desfavorável” da produção de carne, que ainda existe em Portugal, sobretudo “à volta de Lisboa”, faz-se engorda de novilhos com rações. “Esse sistema existe. Se muito ou pouco, não sei dizer, mas existe. E é altamente desfavorável porque baseia-se em rações que vêm do exterior e obrigam a destruir florestas tropicais. São transportadas por camião dentro do Brasil, por barco até Portugal e depois até aos animais”, destaca Carlos Aguiar.
Conversão para outras culturas é mito
O argumento de que se deixarmos de comer carne, passamos a ter terreno para plantar vegetais e alimentar mais pessoas é faccioso. “Muitos desses terrenos são solos mais pobres em que, se tentarmos fazer agricultura intensiva, vamos provocar danos ambientais piores do que ter lá o gado a pastar”, aponta Joanaz de Melo. “Era preciso conseguir produzir alimentos das pessoas nos mesmos sítios onde se produz carne. Nós não comemos tojo nem carqueja, e o gado come. Não conseguimos produzir nos prados salgados da Lezíria, mas conseguimos ter lá gado”, continua Henrique Santos, acrescentando que “a produção de vegetais pressupõe a necessidade de repor a fertilidade do solo”. “Posso naturalmente utilizar os adubos industriais mas uma das maneiras de fazer isso recorrendo a energias renováveis é utilizando animais”.
Reduzir consumo
A necessidade de reduzir o consumo “excessivo” de carne, pelo ambiente e pela saúde, é consensual entre especialistas.
Aproveitar a carne esquecida
Comer bife ou mão de vaca é diferente. “As peças nobres geram desperdício daquela que as pessoas não querem”, mas que podem fazer “refeições equilibradas e com bom sabor” se forem bem trabalhadas. “Com menos animais, alimentamos mais gente e mantemos o consumo”, defende o arquiteto paisagista Henrique Santos.
Comprar localmente
Embora seja preciso ter em conta o tipo de produção, comprar localmente é um bom princípio. “O comércio de carne no nosso país está 50% relacionado com carne importada”, indica o presidente da Confederação dos Agricultores, Eduardo Oliveira e Sousa, salientando que muita vem de explorações “que não têm as mesmas preocupações ambientais” que os produtores portugueses.
Exigir mais informação
Pressionar comerciantes a fornecerem mais e melhor informação sobre a origem da carne que está à venda. “Se os consumidores fizerem isto, naturalmente os produtores também vão ser obrigados a dar mais informação”, diz o investigador João Joanaz de Melo.
O artigo foi publicado originalmente em JN .