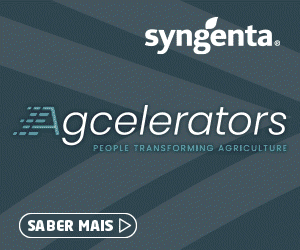Quando se avalia a vitalidade de uma árvore, é natural começar pela observação da copa. A morfologia da ramagem, a coloração da folha, a densidade do rebentamento e a presença de necroses periféricas são sinais úteis de diagnóstico. No entanto, limitar a leitura à parte aérea é negligenciar aquilo que sustenta a árvore em permanência: o solo. Não como substrato físico, mas como sistema vivo. Um sistema onde coabitam milhares de organismos por grama, estruturados em cadeias tróficas subterrâneas que regulam a disponibilidade de água, a dinâmica nutricional, a estabilidade radicular e, num sentido mais profundo, a capacidade de resposta do ecossistema face ao stresse.
Falar em solo vivo implica reconhecer a sua função como interface biofísico entre a planta e o território. Implica também admitir que a saúde da árvore é inseparável da complexidade da microbiota edáfica que a rodeia.
Quando essa complexidade se degrada, por disrupção da estrutura física, mineralização excessiva da matéria orgânica, acidificação não compensada ou colapso da diversidade microbiana, o solo deixa de atuar como mediador ecológico e passa a funcionar como meio permissivo. É nesse contexto que as árvores se tornam vulneráveis ao avanço de agentes patogénicos radiculares e à instalação de pragas oportunistas. Não por causa da sua genética ou da idade, mas por perda de simbiose e de capacidade simbiótica.
A literatura científica designa por solos supressores aqueles que, pela ação combinada de fungos antagonistas, bactérias benéficas, nemátodes predadores, complexidade porosa e equilíbrio bioquímico, limitam ou inibem a expressão de organismos fitopatogénicos. Esta capacidade de supressão biológica não se refere a um efeito pontual, mas a uma propriedade emergente de um sistema que mantém relações de antagonismo funcional no plano microbiano. Microrganismos como Trichoderma spp., Gliocladium, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, entre outros, competem com agentes como Phytophthora cinnamomi, Armillaria mellea ou Fusarium oxysporum por espaço, nutrientes e acessos à zona rizosférica. A sua presença ativa desencadeia mecanismos de resistência sistémica induzida na planta hospedeira, que se traduzem em maior resiliência aos fatores bióticos de pressão.
Nos montados do sul do país, onde predomina a azinheira e o sobreiro, os sistemas radiculares estabelecem simbioses ectomicorrízicas com fungos do género Tuber, Boletus, Scleroderma, entre outros. Estas associações expandem a área de absorção radicular, reforçam a tolerância hídrica, facilitam a disponibilização de macro e micronutrientes e ativam defesas endógenas contra agentes de apodrecimento e necrose radicular. A sua ausência, observada em muitos solos compactados ou sujeitos a práticas disruptivas de mobilização e aplicação excessiva de químicos de síntese, precede frequentemente os surtos de declínio e a colonização lenhosa por insectos xilófagos como Cerambyx cerdo, Platypus cylindrus ou os vectores de Biscogniauxia mediterranea.
A questão, portanto, não é apenas se o solo é fértil, mas se é funcionalmente simbiótico e defensivo. E isso exige outro tipo de leitura em campo. O cheiro húmico, a friabilidade da camada superior, a atividade de fauna edáfica (como colêmbolos, formigas estruturantes, minhocas), a presença de pastagens perenes com efeitos alelopáticos, a ausência de escorrência superficial e a presença de micorrizas aderentes às radículas finas são sinais que indicam um solo com capacidade suprimente. Em contrapartida, a crosta superficial após precipitação, a compactação à pressão manual, a ausência de macrofauna, a mineralização visível sem humificação e a presença crónica de árvores cloróticas, apontam para um ecossistema edáfico em perda de função.
Recuperar essa função não é uma questão de adubação. É um processo de regeneração sistémica. Começa pela compostagem localizada, pela inoculação direcionada de fungos simbióticos, pelo estabelecimento de coberturas vegetais biodiversas que respeitem as fases fenológicas da azinheira, pela eliminação de mobilizações e pela ativação dos ciclos de carbono a partir de matéria vegetal in situ. Ao fim de dois a três ciclos, é possível observar um reforço da rebentação vegetativa, um aumento da densidade foliar e, sobretudo, a redução da frequência e da intensidade dos surtos de pragas e doenças. Não por ausência de risco externo, mas por reconstituição da barreira subterrânea. A médio prazo, este tipo de abordagem reduz custos com fitossanidade, diminui a dependência de inputs externos e contribui diretamente para a recuperação produtiva dos povoamentos em declínio.
O solo pode não ser visível, mas é o elemento estrutural da resiliência. Um montado com solo vivo não é um sistema fechado. É um sistema adaptativo, capaz de modular as pressões a que está sujeito sem entrar em colapso. A árvore, nesse contexto, deixa de ser uma unidade isolada e passa a ser parte de um organismo mais vasto e interdependente. É esse organismo que importa restaurar.
Ricardo Dinis
Diretor de Projeto e Investigação nas Florestas de Iroko